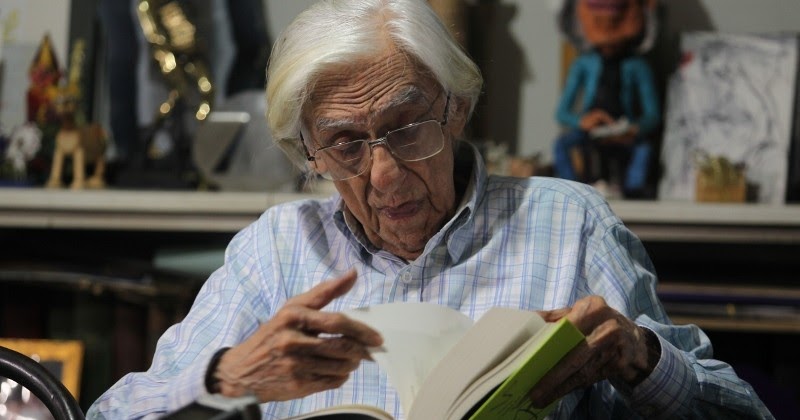Lembranças da infância em Lago dos Rodrigues, viagem a Dom Pedro, Marianópolis, volta de Dom Pedro, a infância/adolescência em Lago da Pedra.
Lago dos Rodrigues, distrito de Ipixuna, distante de aproximadamente 90 quilômetros do município sede, este hoje rebatizado de São Luís Gonzaga, bem próximo da longínqua Bacabal. Colônia de exploradores da cana de açúcar para fabrico de cachaça, rapadura, mel e outros subprodutos como bagaço para alimentos de animais. Quase todos oriundos do estado do Ceará, notadamente da região da serra da Ibiapaba, daí o costume da fabricação de produtos da cana de açúcar, manufaturados em engenhos guiados por animais, jumentos, que ao mesmo tempo que produziam produtos para comercialização, extraíam seus próprios alimentos de subsistência, bagaços de cana.
Diante dos costumes de produção tradicional, torna-se um tanto esquisito o trabalhador e os animais se auto-sustentarem, extraindo do próprio trabalho seu meio de sobrevivência. Tivemos que nos afastar dessa bela terra aonde nasci, e saímos de Lago dos Rodrigues quando eu tinha apenas seis anos de idade. Daquela tenra idade lembro bem da quitanda do papai, onde repercutiam os acontecimentos da parte baixa do pequeno povoado, chamada de rua Nova.
Do dia da morte do presidente Getúlio Vargas ao convívio com um índio na margem da lagoa da Tomásia, à intrigante imagem de São Francisco desenhada pelo pintor Francisco Bezerra, a rua da Ciência, e o cidadão conhecido como seu Ricardo, etc. Tinha pouco mais de dois anos e três meses de idade, quando, em torno das 17:00h do dia 24/08/1954, fui surpreendido com um cidadão, que montado num alazão saltou já adentrando a mercearia do meu pai Edson de Araújo Prado, aos gritos: “Seu Edson, o presidente morreu.” Era o presidente Getúlio Vargas que acabara de suicidar-se.
Tudo irradiava na quitanda do seu Edson, homem muito inteligente, cujos conhecimentos a tudo sabia detalhar. Convivi naquela época com um amigo confidente, o índio que eu chamava de Manoel, que sempre me esperava na outra margem da lagoa da Tomásia para conversas que só minha mente criativa sabia existir.
O São Francisco desenhado pelo pintor Francisco Bezerra tinha o estranho costume de seguir com os olhos a passagem das pessoas, de um horizonte a outro, como se vivo fosse, provocando às vezes agressões à imagem a tiros, sempre por elementos embriagados que anoiteciam nos poucos bares da localidade. A grande obra do Chico Bezerra só comparável em originalidade à imagem do São Francisco localizada na cidade de Assis, Itália, terra natal do santo.
Logo depois da rua Nova, seguia uma artéria que era apelidada de rua da merda, porque naquela localidade acumulavam muitos dejetos de animais. Meu pai, Edson Prado, muito respeitosamente, alcunhava aquela localidade de rua da Ciência, o que fazia com que os moradores daquela rua dessem preferência à mercearia do seu Edson, em respeito à consideração no tratamento respeitoso “irônico” dado àquele lugar.
Outro personagem de muitas considerações e respeitabilidade era conhecido como seu Ricardo. Tinha quase dois metros de altura, de cor preta, descendente de escravos, com muito desenvolvimento intelectual e o peculiar conhecimento do idioma francês. Era comum o seu Ricardo passar horas na mercearia do sr. Edson, conversando francês com este, que também detinha bastante conhecimento dessa língua estrangeira.
Transcorria o ano de 1958, quando fizemos uma viagem a Dom Pedro com o objetivo de papai gerenciar os negócios do comerciante Mina Jadão, que pretendia enfrentar o embate eleitoral como candidato a prefeito da cidade e queria separar a administração dos seus negócios privados das obrigações da campanha eleitoral. Saímos numa madrugada conduzidos por alguns animais no sentido de Pedreiras, sem previsão de chegada, como era costume naquela época.
Ao chegar em Igarapé Grande, Antônio Urbano, o condutor da tropa de animais, para diminuir o trajeto, desviou à direita, seguindo à distância a margem esquerda do rio Mearim. Num final de tarde, já enxergando a escuridão da noite, surge no horizonte um povoado onde uma ponte sobre o rio Mearim nos levaria ao destino final. Já noite escura, tomamos conhecimento de que a ponte móvel, feita de grandes tambores vazios flutuantes, já estava recolhida para ser esticada no dia seguinte.
Qual foi nossa surpresa ao procurar um lugar para se arranchar e descobrir que o local tratava-se de um povoado de nome Marianópolis, ocupado em sua totalidade por pessoas de cor preta, provavelmente oriundas ou descendentes do continente africano. Eu, criança, me enturmei rapidinho e brinquei até ficar exausto com os novos amigos.
Na manhã seguinte, logo cedo, atravessamos o Mearim e prosseguimos no sentido Dom Pedro. Aquele episódio de Marianópolis continua cristalino na minha mente mesmo 66 anos depois, o que me anima a voltar e pesquisar profundamente a vida daquela comunidade.
Meus pensamentos ricos em casos da minha infância vivida em Lago dos Rodrigues, acrescentava essa extraordinária descoberta. Prosseguimos viagem e, em uma determinada madrugada, durante uma parada para descanso, assisti a uma discussão entre meu irmão Antônio Carlos e o chefe da delegação Antônio Urbano. Intrigado com aquele desentendimento, só após alguns dias soube que se tratava de uma desobediência do meu irmão em ajudar o Sr. Antônio a apreender diversas cobras cascavéis, com a finalidade de extrair-lhes os chocalhos para posterior comercialização.
Para minha grande surpresa, descobri que naquela época já existia exploração de veneno de cobra para fins científicos e comerciais, cujos laboratórios adquiriam aquelas matérias-primas para fabricação de medicamentos. Meu irmão Antônio Carlos preferiu se proteger no lombo de um animal, a correr o risco de uma picada de cascavel lhe tirar a vida. Estávamos adentrando o sertão e senti durante muito tempo uma estranha sensação sobrenatural, só vindo a saber muitos anos depois das atrocidades cometidas naquela região pelo homem alguns anos antes, mais precisamente no início da década de 50, do século 20, retratadas no filme…
Um pouco antes de Dom Pedro, me surpreendi com uma linha de fios sobre postes, causando-me uma estranha sensação da presença humana nas proximidades. Posteriormente, tomei conhecimento de que eram as linhas de transmissão dos Correios e que realmente estávamos próximos do nosso destino final, a cidade de Dom Pedro-MA. Passamos aproximadamente três meses em Dom Pedro e, diante dos resultados das eleições adversos ao Sr. Minas Jadão, retornamos a Lago dos Rodrigues, desta vez já sobre confortáveis carrocerias de caminhões.
Não chegamos sequer a demorar muitos dias em Lago dos Rodrigues, quando reiniciamos nova jornada com destino a Lago da Pedra, a quatro léguas de distância, onde seria a residência definitiva da nossa família e transcorreria o prosseguimento do enredo da nossa história. O Sr. Antônio Urbano, excêntrico e com faro para negócios, só voltou a Lago dos Rodrigues após nosso retorno, depois de aproximadamente quatro meses. Tinha aproveitado o frete Lago dos Rodrigues x Dom Pedro, para esticar mais um pouco até Serra Negra e voltar carregado de pedra de amolar, produto muito utilizado na nossa região para afiar ferramentas de trabalho, notadamente foices, facões, enxadas, etc.
Esquisito é que, de Dom Pedro a Serra Negra, no município de Colinas, a distância era de aproximadamente 200 km, o que perfazia uma esticada de 400 km para nosso fraterno amigo Antônio Urbano. Ao chegar em Lago da Pedra, novas amizades, novas brincadeiras, esportes, principalmente futebol, e uma visão excelente do grupo escolar São José, onde encontraríamos uma extraordinária equipe de mestres para sacudir a nossa infância, nosso aprendizado escolar e os costumes de vida, que ainda hoje nos fazem relembrar com uma deliciosa saudade aqueles tempos.
Edson de Araújo Prado, meu pai, que até então fazia-se acompanhar da minha mãe, Rosa Cortez Prado, sentiu ares novos para realizar seus objetivos de vida com aquela que, desde a adolescência, convivia numa saudável relação conjugal, estando ali presentes os 10 (dez) filhos, produtos daquela união que já durava mais de vinte anos felizes. O casal ainda teve outro filho, Francisco, 5 (cinco) anos antes do falecimento prematuro da minha mãe, aos 50 anos de idade.
Papai se integrou rapidamente àquela cidade em função da sua atividade de gerente da Casa Lima, loja varejista de tecidos de propriedade do Sr. Clodomir Bandeira Lima, enquanto mamãe, Rosa Cortez Prado, se encarregava de orientar na criação dos filhos, além de trabalhar como costureira e professora da arte de corte e costura. Além das moradoras de Lago da Pedra, foram inúmeras as alunas que se deslocavam de outras localidades para aprender a arte da moda, como se diria atualmente, tornando-se ESTILISTAS.
A rotina da nossa família começava a se sedimentar naquela nova localidade para se tornar nossa definitiva moradia. Papai, mesmo com apenas formação primária realizada em Caxias-MA, sua terra natal, provinha de imenso conhecimento autodidata nas diversas áreas do saber. Ali, naquela promissora comunidade, encontraram-se paulatinamente e por acaso inúmeras famílias portadoras de muitos conhecimentos e bastante experiência de vida, ao que parece, destinadas a desenvolverem juntas aquele pedaço de chão.
Professoras normalistas chegaram também com o mesmo objetivo, não se sabendo ao certo o que atraiu o conhecimento científico para aquelas paragens. Ninguém adquiriu conhecimentos nas décadas de 1950 a 1970 na região de Lago da Pedra, sem ter tido os ensinamentos das professoras: Conceição, Nasaré, Esterlânia, Adásia, Lenir Barros, etc. Famílias inteiras se dedicavam ao trabalho, algumas na exploração das artes de pedreiros, carpinteiros, pintores, barbeiros, sapateiros, carregadores, tropeiros e não se descuidavam de, paralelamente aos trabalhos, matricular os filhos na Escola São José, para que no futuro dali saísse um doutor preparado para prosseguir com a sequência natural do desenvolvimento.
Esse trabalho se destina a construir a história da nossa cidade, extraída das lembranças de seus antigos moradores que contribuíram com suas privilegiadas memórias. Conquanto traçamos um novo horizonte, deixamos com certa melancolia os lugares por onde passamos, sem esquecer contudo de trazê-los em nossa mente para nossos trabalhos futuros.
Nessas memórias constam as informações, conversas, entrevistas com os interlocutores, até se assegurar que todos os fatos sejam aqui relatados para formar um conjunto harmonioso do nosso passado.